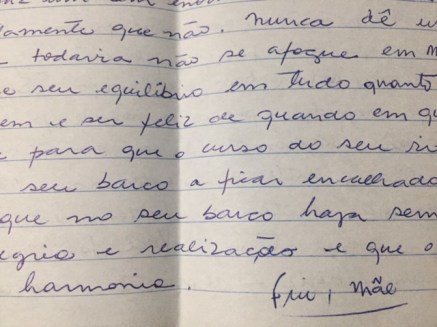Tempos de crise deveriam servir de ensinamento para evoluirmos enquanto pessoas, amigos, irmãos, enquanto seres humanos. Essas fases cíclicas pelas quais passamos deveriam provocar em cada um de nós um momento de reflexão. Pararmos um instante de olhar para o nosso umbigo e enxergarmos ao redor a fim de tentar, pelo menos, entender o motivo de tudo isso.
Mas, por enquanto, não é o que ando percebendo por aí. Lembro que quando surgiu o temido H1N1, a personagem mais cobiçada da história era o álcool gel, produto que novamente está fazendo a fama com a chegada desse novo vírus, antes chamado de corona, agora de Covid-19.
Teorias da conspiração à parte (será que foi criado em laboratório para a China, enfim, dominar o mundo?), a disseminação desse vírus mutante, que se espalha com mais rapidez do que o vírus da gripe comum e do H1N1, já provocou uma mudança radical no cotidiano da população mundial. Países em quarentena, pessoas isoladas, evitando contanto humano, trabalhando remotamente. Soa a mim um tanto metafórico. Se às vezes nos queixamos que as redes sociais nos repelem fisicamente, veio um vírus para nos separar de vez. Na Itália, pessoas pegam os ônibus sem abrir a boca com medo do contágio. Nesse mesmo país, moradores tentam passar o tempo cantando nas sacadas dos prédios.
Ao meu redor, porém, os hábitos continuam os mesmos. Pessoas reclamando que não conseguirão dar conta de trabalhar em casa e ao mesmo tempo cuidar do filho, impedido de ir à escola.
Tomando o exemplo do restante do mundo e já vislumbrando o que poderia ocorrer conosco, imaginei que se fosse ao mercado dali uma semana não encontraria mais álcool gel, ou papel higiênico. PH ainda tem, mas o álcool, ah, esse só no mercado negro agora. Até armazéns que vendem produtos a granel estampam na vitrine: “temos álcool gel”.
Hoje fui à farmácia para comprar o leite em pó do meu filho. Num intervalo de cinco minutos, duas pessoas perguntaram sobre o álcool. Uma mulher apavorada queria saber quando era a previsão de chegada.
Num mercado perto de casa acabou até o suco de laranja. Eu me pergunto: quem toma tanto suco de laranja em 15 dias? Será que quando saímos de férias parece que o mundo vai acabar também?
Ora bolas, desde a pandemia de H1N1 deveríamos ter mantido esse hábito de usar álcool gel. E se não tem o tal álcool 70, use vinagre. Adapte-se. Crises são feitas para isso. Pare de reclamar e passe a meditar. Aproveite esse tempo, que sejam 40, 15 ou 7 dias, para refletir sobre seu estilo de vida, para ficar perto da família, para pensar na paranoia em que vivemos hoje.

Portanto, acredito que a evolução do ser humano, no sentido de exercer a compaixão, a paciência, a empatia, mudar o foco para o outro, está longe de acontecer. O egoísmo, o desespero e o medo são tão contagiosos quanto um vírus.